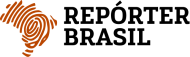Semanas atrás, um fazendeiro antes considerado rico procurou um amigo, também cacauicultor, para falar-lhe de um assunto delicado. “Estou precisando de dinheiro e confio na nossa velha amizade na certeza de que você vai me ajudar”, disse o fazendeiro. O amigo relatou que se prontificou a emprestar uma certa quantia, imaginando tratar-se de R$ 10 mil ou R$ 20 mil. “De quanto você precisa?”, indagou, ao que o fazendeiro respondeu, cabeça baixa: “de uns R$ 200. É para fazer a feira semanal lá em casa.”
(Gazeta Mercantil, 12/04/95)
Parece o enredo de um filme de terror pouco verossímil. Primeiro, os preços no mercado internacional despencaram por conta da grande oferta do produto em outros países, notadamente os da África. A natureza também não colaborou, mandando poucas chuvas e castigando as plantações com a inclemência do sol. Finalmente, como golpe de misericórdia, um fungo vindo da Amazônia sabe-se lá de que maneira, conhecido por “vassoura de bruxa”, apodreceu os frutos e sepultou de vez as esperanças de produtores descapitalizados, que ainda contavam com o bom humor da bolsa de Nova York – responsável pela cotação das commoditties – para salvar a própria pele. O resultado não poderia ser mais desastroso: a queda vertiginosa da safra, associada à baixa rentabilidade, atolou fazendeiros em dívidas e desempregou centenas de milhares de trabalhadores.
 |
Em linhas gerais, essa é a triste história a que a região cacaueira da Bahia vem assistindo a partir do final dos anos 80. O Brasil respondia até então pela segunda maior produção mundial, atrás apenas da Costa do Marfim. Hoje, porém, as 163 mil toneladas colhidas em 2003/2004, que colocam o país na quinta posição, são insuficientes inclusive para atender a demanda interna. Marcada no imaginário popular por lendas que retratam o passado de extravagâncias dos ricos e famigerados “coronéis”, imortalizados por Jorge Amado em livros como Terras do Sem Fim e Gabriela, Cravo e Canela, essa área que abrange quase 90 municípios no sul do estado, e que abriga aproximadamente 85% de todo o cacau nacional, atualmente luta para combater a vassoura de bruxa e recuperar o prestígio de tempos atrás.
Até os anos 70 – quando a criação do Centro Industrial de Aratu e, principalmente, a instalação do Pólo Petroquímico de Camaçari diluíram definitivamente os traços agrícolas da economia baiana – o cacau foi o principal gerador de divisas do estado, responsável por quase 60% de toda a sua arrecadação.
Hoje em dia a situação é bem diferente. No porto da principal cidade da região, Ilhéus, por onde já foram exportados mais de US$ 1 bilhão em sacas de cacau, o movimento gira em torno da soja plantada no oeste baiano, além do papel e celulose produzidos quase no limite com o Espírito Santo. Desde 1995, lá também atracam navios da Costa do Marfim e da Indonésia abarrotados de amêndoas importadas por fábricas de moagem pertencentes a multinacionais importantes – como a americana Cargill e a suíça Barry Callebaut – também localizadas em Ilhéus, que abastecem indústrias de chocolate do mundo inteiro com produtos gerados pelo beneficiamento do cacau.
“Era um orgulho para o produtor chegar a São Paulo ou ao Rio de Janeiro e dizer que trabalhava com esse fruto. Mas, depois da vassoura de bruxa, os cacauicultores viraram motivo de piada. Empobrecemos de uma hora para a outra”, relata Isidoro Gesteira, presidente do Sindicato Rural de Ilhéus.
Os números não deixam dúvida sobre o impacto desse fungo. Na safra recorde de 1984/1985, mais de 400 mil toneladas de amêndoas foram colhidas no país. Porém, em apenas 15 anos, esse índice caiu 60%. Recentemente, com o desenvolvimento de técnicas de enxertia de hastes de plantas resistentes à vassoura naquelas que não suportam a doença – também chamada de “clonagem” – pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as plantações da Bahia vêm timidamente recuperando o fôlego. Mas nada comparável ao esplendor de décadas passadas.
A doença que ataca as árvores deixando suas folhas com o aspecto de uma vassoura de bruxa definitivamente redesenhou a paisagem local. Os coronéis que mandavam e desmandavam são praticamente página virada. “A agricultura familiar hoje responde pela maior parte da produção”, afirma Gustavo Moura, diretor da Ceplac. Além disso, muitos trabalhadores rurais desempregados foram obrigados a buscar emprego nas cidades, inchando importantes centros de turismo nas redondezas, como Porto Seguro. Por outro lado, a crise fortaleceu os movimentos que lutam pela reforma agrária e, em certa medida, democratizou o acesso à terra. Diversos assentamentos foram criados em lotes abandonados por grandes fazendeiros falidos. Na opinião de Moura, “a crise também enxugou o perdulário. Só sobraram os profissionais”.
O cacaueiro é uma espécie nativa das florestas tropicais do continente americano e suas origens são carregadas de mitologia. Para os astecas, tratava-se de uma árvore sagrada, presente divino enviado à civilização que se desenvolveu no México. Já naquela época o cacau se destinava à produção de uma espécie rústica de chocolate – alimento que impressionou os colonizadores espanhóis pelo seu alto teor energético. Guerreiros astecas atravessavam dias sustentando seus corpos apenas com as amêndoas daquele fruto. Por esse motivo, ele foi batizado cientificamente com o nome theobroma cacao, quer dizer, manjar dos deuses.
No Brasil, o berço do cacau foi a região amazônica por conta das altas temperaturas e das chuvas abundantes, ideais para o crescimento da planta. Mas, em meados do século 18, a introdução das primeiras sementes no sul da Bahia, oriundas do Pará, escreveu um novo capítulo na história dessa cultura. São vários os motivos que explicam seu florescimento na terra de Jorge Amado. Em primeiro lugar, o clima quente e úmido, bastante similar ao do seu habitat natural, facilitou o processo de adaptação do cacaueiro, que também precisa da sombra oferecida por árvores de maior estatura para sobreviver. “Além disso não havia uma economia desenvolvida naquela região. Faltavam investimentos maciços desde a época das capitanias hereditárias de Ilhéus e de Porto Seguro”, explica Angelina Garcez, historiadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Os engenhos de açúcar não vingaram naquela parte do estado e, por essa razão, a selva nativa ficou praticamente intocada, à espera dos desbravadores que, anos depois, derrubariam a v
egetação mais fina para plantar os pés de cacau, resguardados pela proteção da Mata Atlântica.
“No século 19, houve um grande fluxo de pessoas para lá devido a uma seca muito forte nos sertões da Bahia e de Sergipe. Os migrantes, pessoas humildes e semi-analfabetas, traziam primeiro a família nuclear, depois os parentes mais distantes. O cacau não conheceu a mão de obra escrava por ser uma cultura pobre, de agricultura familiar em pequenas glebas”, completa Angelina.
A origem simples e a falta de recursos dos primeiros homens que se aventuraram mato adentro, para formar suas roças, explica uma outra característica interessante daquela região, visível ainda hoje: o baixo número de latifúndios. Lá não ocorreu o processo de doação de sesmarias, uma das raízes da elevada concentração de terras no Brasil. “Além disso, com pequenas áreas já se tem uma grande produtividade e uma boa rentabilidade. A cultura do cacau não tem necessidade de grandes glebas. Por outro lado, a concentração fundiária no sul da Bahia se dá de outra forma: um proprietário pode ter várias fazendas de porte reduzido”, afirma Fernando Vargens, chefe da unidade de Itabuna do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A partir de 1860, o cacau se converteu em objeto de desejo de fábricas de chocolate da Europa e dos Estados Unidos. Praticamente toda a safra era exportada, pois não existia o costume de se consumir o fruto e seus derivados no país. As primeiras manufaturas nacionais só apareceram na virada do século. É justamente nesse momento que a cacauicultura viveu seu ápice. O Brasil ocupou o posto de maior produtor mundial até meados da década de 1920. No mesmo período, a região sul da Bahia assistiu a uma verdadeira guerra entre os fazendeiros. Época em que os poderosos coronéis – descendentes daqueles primeiros humildes desbravadores – não mediam esforços e nem violência para expandir seus negócios mediante a apropriação de plantações pertencentes a agricultores menos abastados. “O coronelismo no sul do estado é diferente daquele observado nos engenhos ou na pecuária dos sertões, que tinham como força motriz o latifúndio. No caso do cacau, o coronel mais forte era o que produzia mais. Não se comprava terra, mas pés de cacau”, relata Angelina.
 |
É impossível dissociar a palavra “crise” da história do cacau. Como toda commodittie, ele sempre foi refém do temperamento intempestivo dos mercados internacionais. O crack da bolsa de Nova York, em 1929, representou o primeiro golpe na economia agroexportadora da Bahia. Naquela época, os coronéis estavam em pleno apogeu, até que os problemas internos dos Estados Unidos – então os maiores importadores das amêndoas brasileiras – desesperaram fazendeiros acostumados a acender cigarros em notas graúdas de dinheiro. Como medida de socorro, o governo federal autorizou a criação do Instituto de Cacau do Brasil (ICB), uma espécie de cooperativa que ajudava no financiamento e na comercialização das safras, dois anos após o incidente que abalou as estruturas norte-americanas.
Quase trinta anos depois, uma nova queda brusca na cotação do fruto de ouro da Bahia, motivada pela grande produção internacional, provocou a segunda grave crise no setor. Mais uma vez o governo saiu em defesa dos cacauicultores. “A Ceplac foi criada inicialmente para fazer o alongamento e repactuar as dívidas dos produtores, devido à importância da lavoura para a economia do estado. Durante esse processo, viu-se a necessidade da criação de um órgão para modernizar e estimular a região cacaueira. Em 1962, surge então, vinculado à Ceplac, o Centro de Pesquisas do Cacau (Cepec), uma das principais referências de pesquisa sobre essa cultura no mundo”, comenta Moura. (ver box1)
Mas, sem dúvida nenhuma, a crise que se arrasta dos últimos 20 anos para cá assumiu as proporções mais catastróficas. O preço da tonelada, que chegou a ser negociada a US$ 4 mil no final dos anos 70, atingiu o fundo do poço na primeira metade da década de 90, cotado a US$ 800, o que descapitalizou completamente os cacauicultores. Para piorar a situação, foi justamente nesse período de forte retração econômica que a vassoura de bruxa, detectada pela primeira vez em 1989, no município de Uruçuca, manifestou sua capacidade de devastação. Ninguém sabe ao certo como a doença – que é endêmica na região amazônica – desembarcou no sul da Bahia. Os esporos do fungo podem ter sido transportados nas idas e vindas de fazendeiros que também possuíam roças localizadas no norte do país. Há boatos até de uma ação criminosa, com o intuito deliberado de vingança contra produtores da região. O fato é que em poucos anos a vassoura se espalhou por quase todas as propriedades, curiosamente seguindo o sentido da BR 101, que corta a zona cacaueira.
“Não havia tecnologia e nem recursos para tratar a doença. Era muito caro em função da estrutura regional, baseada na monocultura do cacau. No início, a única forma de controle era a manual, removendo as partes atacadas das árvores. Mas se um fazendeiro removesse, e o seu vizinho não fizesse a mesma coisa, não adiantava”, avalia o sociólogo Salvador Trevisan, professor da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC). O preço dos imóveis rurais também despencou. “Uma fazenda de 150 hectares pela qual o meu avô havia pago US$ 800 mil não valia R$ 150 mil depois da disseminação do fungo. Não vendi por esse dinheiro porque achava uma loucura. Apesar da crise, sempre acreditei no cacau”, conta Gesteira.
Em 1995, para acalmar os nervos dos produtores, o Governo Federal lançou o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, com recursos endereçados ao combate da vassoura de bruxa, dividido em quatro etapas. Em cada uma delas, cacauicultores de todos os portes deveriam elaborar um projeto para combater a doença em suas roças, feito com o auxílio dos profissionais da Ceplac, e cujo financiamento seria analisado pelas instituições financeiras oficiais autorizadas a liberar o dinheiro. Ao todo, nesses quatro momentos, cerca de dez mil projetos foram aprovados pelo Banco do Brasil, que desembolsou R$ 228 milhões. Os grandes, que respondem por apenas 310 pedidos, ficaram com mais de 20% dos recursos.
A vassoura de bruxa só começou a ser efetivamente domada nas duas últimas etapas, com o investimento na técnica de clonagem que, na verdade, não passa de um simples processo de enxertia de hastes de árvores resistentes à doença em plantas vulneráveis aos ataques do fungo. Entretanto, a meta de clonar 300 mil hectares de plantaç
ão, metade da área total de cacau no sul da Bahia, não foi alcançada. A Ceplac estima que 50% da proposta inicial tenha sido cumprida.
Com o vencimento das primeiras parcelas dos recursos emprestados, os cacauicultores – principalmente os de maior envergadura – vêm renegociando na capital federal os prazos para o pagamento de suas dívidas. Eles alegam que não houve tempo suficiente para a produção recuperar o vigor e, por esse motivo, ainda não têm condições de quitar seus débitos. “Essa história é velha. Eles sempre chegam a um ponto em que não conseguem pagar e aí negociam com o governo, que dá o perdão. Um benefício, porém, que só os grandes conseguem. Os pequenos nunca são contemplados com esse tipo de medida na agricultura”, afirma Trevisan.
Antes de partir para Ilhéus, a fim de modernizar a administração das fazendas de cacau pertencentes à família de sua esposa, Fernando Botelho recebeu um revólver do pai que, com a voz embargada pelo choro, só conseguiu dar um conselho ao filho que se aventuraria naquelas terras repletas de histórias violentas: “cuide-se”. O avô de sua mulher, coronel Ramiro Aquino, era bastante conhecido na região e já tinha até sido citado na literatura de Jorge Amado. “Mas ele era tranqüilo. Não tomava terra de ninguém”, assegura Botelho. Nascido e criado no Rio de Janeiro, com formação em engenharia mecânica, ele tinha planos de ficar no máximo dois anos no sul da Bahia. Entretanto, tomou gosto pela cacauicultura e já está há 32 na região. É o atual presidente do Sindicato Rural de Barro Preto, município com pouco mais de sete mil habitantes.
Até 1985, Botelho e outros grandes fazendeiros não tinham do que se queixar. Era prática comum, por exemplo, que fábricas de processamento de amêndoas pagassem antecipadamente pela produção – como comprar um bezerro na barriga da mãe. Assim, eles ganhavam fôlego para honrar seus compromissos no período conhecido como “paradeiro”, reservado à limpeza e manutenção das roças, que vai de janeiro a abril. De maio em diante, nascem frutos dos pés quase que sem interrupção, mas a safra principal só começa a partir de agosto. “Qualquer outro produto comparado ao cacau trazia um lucro irrisório. Não havia como desviar a atenção”, conta Botelho. Contudo, pouco tempo depois ele sentiria no bolso os riscos implícitos em qualquer atividade de monocultura. Escritórios em Itabuna, apartamento em Salvador, uma fazenda de gado e outra de cacau. De tudo isso Botelho foi obrigado a se desfazer quando a crise, comandada pela vassoura de bruxa, bateu à sua porta.
A produtividade da São José, sua fazenda em Barro Preto, é um bom termômetro para mensurar o declínio no padrão de vida de produtores de médio e grande porte, assim como ele, desde a fulminante aparição do fungo. Em 1979, de cada um dos 212 hectares do imóvel – onde trabalhavam 120 pessoas – saíam quase 65 arrobas de cacau por ano. Hoje, esse índice não chega a sofríveis 20 arrobas, e a fazenda tem 18 funcionários. Depois de 1985, Botelho foi obrigado a apertar o cinto e abrir mão de carros do ano e de viagens para o exterior. “Não sei da vida dos outros, mas deve haver gente que ficou em situação pior”, avalia.
O engenheiro carioca foi um dos cacauicultores contemplados pelo programa lançado em 1995 pelo Governo Federal. Nas duas primeiras etapas juntas, Botelho tomou emprestados cerca de R$ 200 mil. E, somando a terceira e a quarta, o volume de recursos repassados a ele pelo Banco do Brasil mais do que dobrou. Porém, a pedra no sapato dos produtores são as dívidas referentes justamente às duas primeiras etapas. As recomendações iniciais dos técnicos da Ceplac para o combate à vassoura de bruxa, que consistiam basicamente no rebaixamento da copa dos cacaueiros, não surtiram o resultado desejado. “Quando se cortava a árvore, ela sentia necessidade de se proteger do sol e lançava mais brotos e folhas. Esses tecidos novos são justamente a área onde o fungo mais ataca. Nós estamos endividados por conta de um dinheiro que não resolveu o problema, e a maioria das propriedades ficaram hipotecadas. Vamos perdê-las para o Banco do Brasil – que será, finalmente, o único latifundiário da região cacaueira”, indigna-se Isidoro Gesteira.
 |
Nas terceira e quarta etapas, iniciadas há pouco menos de cinco anos, o combate à vassoura deu uma guinada de 180 graus com a adoção das técnicas de clonagem. “O problema é que os galhos enxertados ainda não tiveram tempo hábil para crescer e produzir. Na minha fazenda, por exemplo, só 20% da produção é de cacau clonado”, afirma Botelho. “Durante muitos anos, o governo do estado se encostou na Ceplac, que realizava diversas obras públicas com o nosso dinheiro. Hoje o que é oferecido em retribuição? Uma banana”, desabafa. Para amenizar essa inquietação, o deputado federal Josias Gomes (PT-BA) encampou a causa dos cacauicultores do sul da Bahia. “Sugeri à Ceplac que fizesse uma nota técnica reconhecendo os erros nas duas primeiras etapas. Com base nesse documento, fui ao ministro da Casa Civil José Dirceu e ele sugeriu uma prorrogação de seis meses para a cobrança das dívidas”, explica Gomes. Durante esse período, uma comissão instalada no Ministério da Agricultura terá a missão de mediar as negociações entre produtores e governo. “Muitos cacauicultores partem do princípio de que a Ceplac propôs algo que não deu certo e, dessa forma, o correto seria perdoar a dívida das duas primeiras etapas, que chega a quase R$ 180 milhões. A culpa é do governo também e ele precisa assumir essa responsabilidade”, conclui o deputado.
Maria do Carmo dos Santos, a Carminha, cresceu rodeada por pés de cacau, fazendo a limpeza das roças durante a entressafra, quebrando os frutos que colhia das árvores, separando as amêndoas da polpa esbranquiçada, pisando as sementes que secavam nas barcaças. Sua família perambulou por diversas cidades do sul da Bahia empregada por patrões que, via de regra, nunca respeitaram os benefícios trabalhistas a que teria direito. A lavoura do cacau, por ser permanente, absorve uma grande quantidade de mão-de-obra e, no cotidiano de uma fazenda, tudo é feito pelos braços de homens e mulheres, como há um século. Não existe espaço para a mecanização e o lombo das mulas ainda é o transporte por excelência.
Estima-se que 200 mil pessoas tenham perdido seus empregos em decorrência da mais cruel das crises enfrentad
as pela cacauicultura baiana. Além do previsível êxodo rural, nos últimos quinze anos também se observou uma crescente organização dos movimentos de luta pela terra. Carminha tentou a sorte como empregada doméstica, mas o sonho de tocar o próprio lote lhe deu a motivação necessária para agüentar três anos acampada sob uma lona preta, até que a fazenda Boa Lembrança, em Itabuna, fosse considerada improdutiva e desapropriada pelo Incra. Na parte que lhe coube – seis hectares – Carminha planta mandioca, algumas hortaliças e uma variedade de frutas. Mas só o cacau ocupa metade da área. Com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ela comprou três mil mudas resistentes ao fungo amazônico, e espera vê-las produzindo daqui a poucos anos.
“A vassoura de bruxa é a madrinha da reforma agrária aqui na região”, define Júlia Oliveira, coordenadora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-BA). Prova disso é que, dos 113 assentamentos localizados naquela área, onde residem aproximadamente seis mil famílias, a esmagadora maioria foi criada na década de 90 em grandes fazendas abandonadas por proprietários descapitalizados. Justamente porque o principal gasto para fazer a manutenção de uma roça de cacau e, conseqüentemente, o melhor remédio para combater a vassoura, ainda é a mão-de-obra. Mas isso os assentados têm de sobra. “A agricultura familiar tem tudo para fazer com que a cacauicultura possa se reerguer numa outra base econômica”, analisa Fernando Vargens, do Incra.
Além do pagamento da dívida com os historicamente explorados trabalhadores rurais, apesar de oito mil famílias ainda aguardarem pelo lento e burocrático processo de desapropriação de fazendas pelo governo, no sul da Bahia, as autoridades precisam encarar de frente outros dois grandes desafios: a recuperação e a diversificação da produção. “Com o cacau não existe ‘embeleco’”, explica Roque Coutinho, um dos agricultores do assentamento Nova Vitória, em Ilhéus. Ele quer dizer que, com um punhado de amêndoas no bolso ou um caminhão transbordando de sacas, é impossível não achar comprador. “E as fábricas de moagem pagam de imediato. Não é como o boi que o dono leva trinta dias para receber. Mesmo com toda a crise, a liquidez se manteve”, completa Isidoro Gesteira.
A liquidez das amêndoas é uma das razões que justifica essa espécie de obsessão pelo cultivo do cacau, um traço cultural que não faz distinção entre pequenos e grandes produtores no sul da Bahia. Alguns fazendeiros até apostaram no café. Outros aumentaram suas áreas de pecuária. O cultivo de frutas, como a banana e o cajá, também acenou com a possibilidade de brigar pelo seu espaço. Mas a falta de investimentos substanciais em outras culturas esbarra também numa mudança de mentalidade que não se processa de uma hora para outra.
“A lavoura do cacau perdeu sua importância econômica, mas ela tem um papel muito relevante para a geração de emprego e para a preservação da Mata Atlântica”, pondera Gustavo Moura. Esse fruto que moldou a identidade de uma parte expressiva da Bahia parece ter cumprido sua função histórica como importante commodittie e, há quase duas décadas, a economia da região sul do estado atravessa as turbulências que todo sistema baseado na monocultura de exportação está fadado a enfrentar. Porém, de trabalhadores que se transformaram em sem-terra a grandes produtores que ainda resistem à forca das dívidas, todos clamam por uma merecida atenção do governo. Resta saber de que maneira esse socorro virá e a quem ele irá de fato beneficiar.